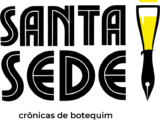Sempre é esse vai e vem; pessoas e lágrimas e caixas lacradas ornadas com guirlandas, como a que vê agora. Será que é mais um corpo trazido pela enchente? Pensa no quanto tudo poderia ter sido evitado não fosse a mão invisível e onipotente do deus Mercado. Sobe a rampa no ritual vagaroso que pratica há anos, desde que eles morreram; chega na lápide e tira da bolsa o lenço umedecido. Passa com cuidado sobre as pétalas e folhas. Há colônias de parasitas e minúsculas teias de aranhas empoeiradas nas flores de plástico. Decide não trocá-las agora. As ajeita simetricamente numa espécie de vaso retangular do jazigo. Aqui de cima, no 5º andar, quase tudo ao redor são galerias com milhares de epitáfios e flores; uma sucessão de canais secos por onde a vida deixou de escoar.
Pela primeira vez olha com atenção para o vão à sua direita. Há uma árvore grande no buraco de luz quadrado que entorna as galerias, cuja copa chega até onde ela está. Estica o olho e se surpreende ao ver no piso lá embaixo aquele símbolo. Desenhado com brita, o círculo metade preto metade branco e dividido ao meio por uma linha sinuosa, rapta seu olhar para as duas pequenas esferas dentro de cada semicírculo.
É sempre esse vai e vem. O branco no preto e o preto no branco; a árvore e o túmulo; a vida e a morte. Agora o prédio com suas galerias e ramificações se assemelha a um corpo, por onde antes navegavam plasmas encharcados de vida.
Num jogo em que tudo invade seu contrário – de tanto líquido – a vida secou.